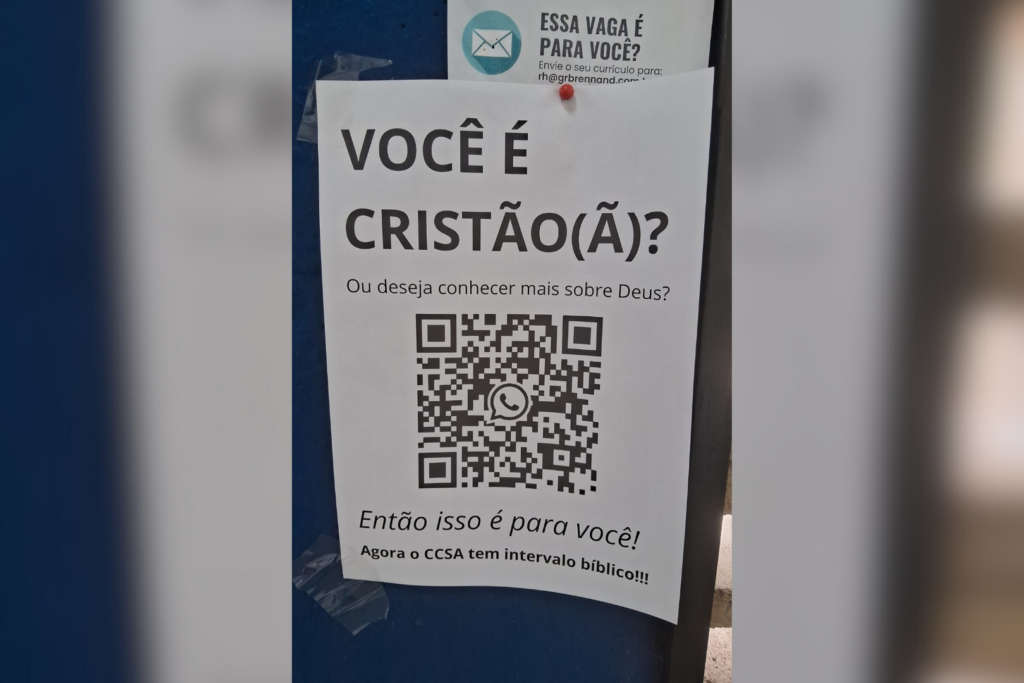Na era Bolsonaro, evangelização se alastra nas aldeias indígenas

Pastor indígena Henrique Terena com membros da Wycliffe Bible Translators
O movimento de evangelização vem ganhando força sob o bolsonarismo, com religião, política e mídia andando de mãos dadas a projetos ultraliberais. Os indígenas já foram evangelizados por brancos estrangeiros e brasileiros e, no início dos anos 2000, uma “terceira onda” missionária começou a se formar e agora vem ampliando terreno. São indígenas que evangelizam indígenas.
A bíblia, seja ela carregada por um pastor (neo)pentecostal indígena ou branco, encontra na vulnerabilidade social e econômica do país uma porta de entrada para o argumento da “salvação”.
Dados do Censo, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), apontam que o percentual de indígenas evangélicos saltou de 14% para 25% entre 1991 e 2010. Uma pesquisa de 2018 do Datafolha mostra que essa fatia já é de 32%.
O Conselho Nacional de Pastores e Líderes Evangélicos Indígenas (Conplei), fundado em 1991, já reúne, segundo o presidente, Henrique Terena, mais de 2 mil pastores e lideranças que atuam com a missão de “ver Deus glorificado entre as tribos do Brasil” e com o lema “Em cada povo uma igreja bíblica genuinamente indígena”.
Os congressos do Conplei, cuja base teórica tem influência na chamada “antropologia missionária”, reúnem entre 4 mil e 5 mil indígenas. O 9º encontro será em setembro, no Maranhão.
A Marco Zero Conteúdo conversou, entre fevereiro e março, com lideranças indígenas de diferentes estados para entender melhor esse cenário e o modus operandi da evangelização, do contato à conversão.
Toré de um lado, bíblia do outro
Do lado oposto, o argumento que alimenta a luta de resistência defende a manutenção das tradições culturais e religiosas, muitas vezes demonizadas pela igreja, e acredita que a imposição evangélica é incompatível com cachimbo, toré e maraca.
Quem resiste são integrantes dos povos originários que se juntam a acadêmicos na ideia de que abrir terreno para a igreja é abrir terreno para projetos de mineração, extrativismo, agropecuária e energia, passando por cima de preceitos constitucionais de proteção de terras e garantia de direitos, inclusive ao isolamento.
Mas, por outro lado, há pessoas que defendem e trabalham pelo “plantio de igrejas”, acreditam que religiões diferentes podem, sim, conviver dentro de um mesmo território. Esses indígenas também não veem problema na nomeação do ex-missionário evangélico Ricardo Lopes Dias para a Coordenação-geral de Índios Isolados e Recém-Contatados da Fundação Nacional do Índio (Funai).
A presidência do órgão, que foi chefiada por evangélicos já no Governo Temer, alterou o regimento da autarquia, retirando a exigência de que o cargo de uma das áreas mais sensíveis da Funai fosse ocupado por um servidor de carreira.
Um levantamento publicado no mês passado pelo jornal O Globo, realizado junto ao Ministério Público Federal (MPF), mostra que missionários evangélicos já atuam junto a, ao menos, 13 dos 28 povos isolados conhecidos pela Funai. A maioria está no Vale do Javari (AM), onde há registros confirmados de ameaça a 10 povos.
O contato representa também um risco para a saúde desses indígenas. Na quarta (11), o MPF recomendou a suspensão imediata da aproximação com indígenas isolados da comunidade Yanomami Moxihatëtëa após saber que órgãos da saúde indígena planejavam ações na região.

Vista aérea da terra indígena Yanomami (crédito: Leonardo Prado/MPF)
Os grupos missionários vêm encontrando respaldo no atual cenário político e a nomeação de Ricardo Lopes Dias é mais um agravante, de acordo com fontes ouvidas pela MZ. Dias é membro da já denunciada Missão Novas Tribos do Brasil (MNTB) e, como missionário, atuou junto ao povo Matsés, no Vale do Javari, em missão de conversão compulsória.
O MNTB também tem na sua história o caso do ex-missionário norte-americano Warren Scott Kennell, condenado por pedofilia e abuso sexual de menores indígenas no Acre.
O MNTB é ainda mais agressivo do que as neopentecostais. Relatos como os de reportagens publicadas nos sites Repórter Brasil e The Intercept, detalham como esse grupo realiza conversões involuntárias, com uso de violência e coação.
Em fevereiro, o MPF foi à Justiça contra a nomeação de Ricardo numa ação judicial que aponta evidente conflito de interesses, riscos à política de não contato e ameaça de genocídio e etnocídio para povos isolados e de recente contato.
LEIA TAMBÉM: Arcebispo afirma que missionário evangélico na Funai ameaça os povos indígenas
“Igreja bate no calo que mais dói”
“Na região em que me criei, na Aldeia Jaguapiru, no município de Dourados, Mato Grosso do Sul, onde há muita carência de ações sociais efetivas, que leva à pobreza, a igreja bate justamente no calo que mais dói, a questão social. Elas entram com projetos sociais para, por exemplo, tirar jovens da violência e das drogas”, relata Graciela Guarani.
Da etnia Guarani Kaiowá, ela é produtora cultural e comunicadora da Articulação dos Povos e Organizações do Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo (Apoinme). Graciela também é a primeira mulher indígena brasileira a ser destaque no festival Berlinale, este ano, na Alemanha.

Graciela Guarani, da etnia Guarani Kaiowá, produtora cultural, comunicadora da Apoinme e cineasta ameríndia (crédito: acervo pessoal)
Seu estado, o Mato Grosso do Sul, onde está a Reserva Indígena de Dourados, a 230 quilômetros de Campo Grande, concentra a segunda maior população indígena do Brasil (a primeira é o Amazonas).
A reserva tem duas aldeias, Jaguapiru e Bororó, com três etnias: Guarani Kaiwá, Guarani Ñandeva e Terena. Aproximadamente 13 mil habitantes vivem numa região de cerca de 3 mil hectares onde muito sangue já foi derramado em conflitos fundiários e que, nos últimos anos, tem sido alvo da escalada de violência, tráfico, consumo de álcool e altos índices de suicídio e adoecimento mental.
Em junho de 2019, a Dourados chegou a registrar uma média de um assassinato a cada dois dias e meio, segundo levantamento feito pelo portal G1. Relatório publicado no ano passado pelo Conselho Indigenista Missionário (Cimi) mostra que foram registrados 101 suicídios indígenas no Brasil em 2018. Os estados com mais ocorrências foram Mato Grosso do Sul (44) e Amazonas (36).
O primeiro teve um aumento de 31 suicídios, em 2017, para 44 em 2018. Os dados parciais são da Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai) obtidos através da Lei de Acesso à Informação.
A presença evangélica na região é bastante antiga, remonta do início dos anos 1900, quando a reserva foi estabelecida pelo Estado brasileiro e passou a receber indígenas de outras áreas do país. A gestão era militar e recebeu apoio da Assembleia de Deus.
Atualmente as igrejas conquistam fiéis através de trabalho social, eventos e doações, de agasalhos a brinquedos, e ocupam o vazio deixado pela omissão do Estado.
“A igreja também divide politicamente o povo. A maioria dos evangélicos é bolsonarista e isso é falado nas igrejas”, detalha Graciela, que conta que o primeiro turno das eleições 2018 foi festejado na região com tiros.
Ela denuncia que “um dos agravantes mais cruéis é o abuso exacerbado dos evangélicos com as mulheres. Meninas adolescentes são casadas com pastores brancos e isso é considerado normal”.
Para o Ministério Público Federal (MPF), “a população é tratada com “indiferença hostil”, fundada, na maioria das vezes, em motivos discriminatórios”. Desde 2012, o MPF atua judicialmente para que as polícias Civil e Militar cumpram a obrigação de prestar atendimento emergencial às aldeias da região sul do Mato Grosso do Sul.
Para Graciela, não faz sentido seguir a religião evangélica quando se nasce indígena. “É uma questão existencial”, reforça. Construir uma frente para combater a evangelização, segundo ela, envolve o direito à terra, à saúde e à educação indígenas. A luta pela manutenção das tradições passa também pelo combate à criminalização dos rituais e espaços sagrados.
Neste ano, ao menos duas casas de reza foram incendiadas no Mato Grosso do Sul. No ano passado, a última casa de reza construída pela etnia Kaiowá, na Aldeia Jaguapiru, foi destruída por um incêndio. A suspeita é que a ação tenha sido criminosa, motivada por intolerância religiosa.
O local já havia sido revitalizado algumas vezes após passar por tentativas de destruição. Dessa vez, o fogo destruiu o xiru, estrutura secular feita com varas em formato de cruz. O cacique Getúlio de Oliveira é uma liderança bastante perseguida, conta Graciela, por lutar pela preservação da cultura e da religião.

Última casa de reza construída pela etnia Kaiowá, na Aldeia Jaguapiru, destruída por um incêndio em 2019
“Aos olhos da lei e do governo”
Na avaliação de Dinaman Tuxá, liderança baiana que faz parte da coordenação executiva da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib), há uma novo processo de colonização e evangelização, “aos olhos da lei e do governo”.
Isso porque se intensificaram no Congresso projetos e medidas que pretendem alterar a legislação no intuito de facilitar o acesso e a exploração de terras indígenas. E para Dinaman, abrir espaço para a religião é abrir espaço também para projetos capitalistas que podem ameaçar vidas indígenas.
Ele foi uma das lideranças que percorreu 12 países da Europa no segundo semestre de 2019 na jornada “Sangue Indígena: Nenhuma Gota a Mais”, que denunciou a autoridades, empresas e sociedade a violência sofrida pelos povos indígenas no Brasil.
Dinaman, que é advogado da Apoinme, mestre em desenvolvimento sustentável e doutorando pela Universidade de Brasília, pontua que, mesmo com a existência de proteção legal, o discurso do Governo Bolsonaro endossa a entrada em terras indígenas sem autorização para pregação e evangelização. “As pessoas se apropriaram desse discurso para pregar o que elas assim acharem de direito”, reforça.
Uma matéria publicada pelo site da Época em fevereiro mostra que a Missão Novas Tribos do Brasil comprou um helicóptero, avaliado em R$ 4 milhões, com o objetivo de, sem autorização, sobrevoar e “chegar com mais facilidade nas aldeias onde não há pista de pouso”.
A doutrinação evangélica, explica Dinaman, é muito mais radical e criminalizadora do que a católica e tenta mudar todo um modo de vida, expulsando lideranças e acirrando disputas internas.
Para ele, a construção de uma frente de resistência passa necessariamente por trabalhar a perspectiva da autonomia e do desenvolvimento sustentável, buscando também o campo acadêmico para desenvolver trabalhos dentro de terras indígenas, respeitando a diversidade de cada povo.
A temática evangélica deve entrar na pauta do 16º Acampamento Terra Livre (ATL) juntamente com as discussões sobre os projetos econômicos nocivos aos povos originários. O evento aconteceria entre os dias 27 e 29 de abril em Brasília, mas foi adiado por causa da pandemia de Coronavírus. A nova data será definida conforme orientações dos órgãos oficiais de saúde.
Resistência é maior no Nordeste
De acordo com Dinaman, a presença evangélica é mais forte no Norte e no Centro Oeste do país, através sobretudo das igrejas Universal e Presbiteriana. Povos do Nordeste, por historicamente cultivarem a jurema e o uso do cachimbo, iniciativas bastante criminalizadas pelas igrejas evangélicas, têm conseguido resistir mais às investidas graças à força que vem dos encantados.
“Na minha comunidade, já tentaram construir diversas igrejas evangélicas, mas não conseguiram. Quando vêm com o argumento de ‘coisa do capeta’, o povo se une para expulsar”, relata.
“Mas ainda assim, várias aldeias do Nordeste estão abrindo as portas para as outras religiões. Recentemente um ônibus de evangélicos chegou aqui ofertando roupa e comida. E uma simples vestimenta às vezes é um atrativo para os jovens se sentir seduzido. Eles chegam com propostas boas para os que estão em situação de fragilidade, com poder de mídia e de persuasão”, pondera.
Alexandre Pankararu, comunicador da Apoinme e cineasta indígena, acredita que em territórios onde há acesso à terra e à água e menos pobreza e violência, a articulação dos povos consegue barrar mais facilmente as tentativas de penetração evangélica.
“Mas uma criança que brinca com objetos de pau quando recebe um brinquedo de rodinha, ela vai achar ruim?”, provoca. No território Pankararu, Sertão de Pernambuco, onde vivem cerca de 10 mil pessoas, uma igreja evangélica já chegou a ser transformada num centro cultural indígena.
“Os participantes não vão no terreiro e, quando veem os praiás, viram as costas”. Para ele, a presença da igreja em alguns momentos é também geradora de conflitos familiares.
A multiplicação de fiéis
A reportagem da MZ também conversou com Paulo Tupiniquim, do Espírito Santo e coordenador-geral da Apoinme. Ele detalhou que o trabalho de evangelização chega através de pessoas ou de grupos que se intitulam missionários e acabam convencendo indígenas a seguir uma determinada religião.
Essa pessoa se torna multiplicadora dentro da comunidade e vai conquistando mais fiéis. “Daqui a pouco, você tem 10, 20, 30 indígenas que aderiram àquela religião ou congregação”.
E aí tradições, costumes, usos e cultos vão se perdendo. “É do nosso costume, no período de rituais e festividades, se pintar, colocar cocar, usar os nossos adornos. Mas as igrejas proíbem isso sob argumento de que é ritual satânico”, explica Paulo.
Ele lembra que a evangelização em terras indígenas não é uma novidade. Somando as instalações nas 12 aldeias do território em que vive, com 18 mil hectares e 4 mil pessoas, são 10 igrejas. Somente na aldeia dele, a Tupiniquim – Caieiras Velhas, são três.
Lá a maioria das igrejas não tem vínculo partidário. Porém, lembra Paulo, em diversas aldeias do Brasil o processo tem avançado a passos largos desde as eleições de 2018, com as consequentes nomeações e projetos.
A ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, é fundadora da ONG evangélica Atini – Voz pela Vida, alvo de acusações do MPF e de indigenistas de tráfico, sequestro e exploração sexual de crianças.
Logo que foi criada, a pasta de Damares passou a ser o guarda-chuva da Funai, que também perdeu a função de demarcação de terras indígenas, transferida para o Ministério da Agricultura. A pressão dos indios, de indigenistas e de parte do Congresso, conseguiu depois devolver a autarquia e sua função demarcatória ao Ministério da Justiça através de uma Medida Provisória.
“Semeando igrejas”
O mestre e doutor em etnologia pela Universidade de Paris X (Nanterre) e coordenador do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Etnicidade (Nepe) da UFPE, Renato Athias, desenvolve trabalhos junto a povos indígenas há 50 anos, sobretudo em Pernambuco e na região do Alto Rio Negro, no Amazonas.
Ele vem acompanhando de perto do desmonte da Funai desde o ano passado e tem se mostrado bastante preocupado com as ações missionárias.

Em foto antiga, o antropólogo e professor Renato Athias em território indígenas (crédito: Facebook Renato Athias)
A presidência do órgão afastou antropólogos e pesquisadores que há décadas vinham trabalhando nos processos fundiários. “Por que afastar os antropólogos? Claro que há um interesse em prejudicar os processos de estudos em andamento”, provoca.
Para o professor, a “Declaração de Barbados – Pela libertação do indígena”, que questionava e condenava ações evangelizadoras continua atual. Ela foi assinada em 1971 por antropólogos de vários países, incluindo o brasileiro Darcy Ribeiro.
“Nós estamos vivendo um cenário político no Brasil tão grave quanto o dos primórdios da colonização”, avalia Athias, que também é professor do Master Interuniversitário de Antropologia Iberoamericana da Universidade de Salamanca, na Espanha. Segundo ele, pastores que atuam em populações indígenas dizem estar “semeando igrejas”, “fazendo com que elas brotem junto às comunidades”.
“Sabemos que, qualquer que seja a ideia de missionarização, são os povos indígenas que são massacrados, violados culturalmente e destruídos na sua integridade cultural”, sentencia Athias.
Além disso, essas organizações, detalha Athias, se usam de ferramentas, técnicas e práticas pedagógicas da antropologia. Vários pastores e evangelizadores se organizam em eventos com argumentos “pseudocientíficos” para justificar as ações catequéticas.
Antropologia “missionária”
Um exemplo é área do conhecimento intitulada “antropologia missionária”. A reportagem tentou diversos caminhos para entrevistar um dos nomes fortes dessa linha, Ronaldo Lidório, pastor da Igreja Presbiteriana. Enviamos dois e-mails, deixamos recado nas redes sociais e contactamos a Igreja Presbiteriana das Graças, Zona Norte do Recife, a qual ele pertence. Mas não tivemos retorno.
Autor de mais de 15 livros, entre eles “Introdução à Antropologia Missionária”, ele coordena o Instituto Antropos, de preparação para os campos missionários.

O pastor presbiteriano Ronaldo Lidório, antropólogo missionário (crédito: Facebook Ronaldo Lidório)
“Nós, cristãos, temos expectativas quanto à conversão das pessoas, achando que deva ser imediata, pois em nossa cultura funciona assim. Em algumas culturas, no entanto, nas quais as mudanças se dão vagarosamente, quando pregamos o Evangelho, mensagem que certamente causa impacto e gera mudanças, cada um que se chega a Deus o faz dentro do seu formato cultural. Às vezes, uma conversão se dá muito lentamente. Tendemos a pensar que se trata de fraqueza espiritual, porém muitas vezes, o que acontece é que o processo naquela cultura é naturalmente longo. Quanto maior a proposta de mudança, mais tempo deverá levar”, diz a página 111 do livro mais famoso de Lidório.
Um conselho de pastores indígenas
Henrique Terena, o pastor indígena que citamos no início da matéria, presidente do Conselho Nacional de Pastores e Líderes Evangélicos Indígenas (Conplei), nasceu em 1962 na aldeia Córrego do Meio Buriti, município de Sidrolândia, Mato Grosso do Sul. Cresceu numa família evangélica e “entregou sua vida a Jesus” quando tinha apenas nove anos.

Pastor indígena Henrique Terena (dir.), presidente do Conplei (crédito: Conplei)
A Conplei está apoiada na Associação de Missões Transculturais Brasileiras (AMTB), que possui um departamento específico de assuntos indígenas e tem diversas agências financiadoras internacionais filiadas. “Ainda temos como desafio mais de 2 mil povos sem o Evangelho, entre os quais 89 estão no Brasil”, diz o texto de apresentação da AMTB, que atua através de eixos de ensino, assistência e treinamento.
Formado em teologia pelo Seminário Palavra da Vida e amigo da ministra Damares, Henrique foi coordenador regional da Funai em Campo Grande (MS) por quase um ano, acumulando os dois cargos.
Nomeado em 2019, ele defendeu, em entrevista ao Bom Dia MS, da TV Globo, quando assumiu o cargo, “um diálogo mais aberto entre produtores e indígenas” como forma de solucionar conflitos por demarcação de terras. E disse que tem havido alguns avanços nessa direção, a despeito dos números da violência.
A Marco Zero entrou em contato com Henrique por telefone, mas ele solicitou que a entrevista fosse feita por e-mail, por onde deu respostas curtas. A seguir, os principais trechos:
Marco Zero: O que o sr acha sobre o Governo Bolsonaro e sua política indigenista?
Henrique Terena: Todo governo tem suas demandas e aos poucos fazendo valer as nossas expectativas enquanto etnias (SIC).
MZ: O que o sr acha da nomeação de um ex-missionária evangélico para a diretoria de povos isolados da Funai?
HT: Cada governo tem sua plataforma de trabalho. O fato de ser evangélico não impede que alguém seja nomeado. Ele não foi escolhido por ser evangélico, e, sim, pela sua capacidade e formação acadêmica.
MZ: Como vê o papel da Funai no Governo Bolsonaro?
HT: Cremos que está no caminho certo. Há muito por fazer por ser um órgão federal. Porém, os ajustes virão e vejo o empenho deste novo gestor.
MZ: O que o sr acha de projetos que abrem espaço para mineração, desmatamento e agropecuária em terras indígenas?
HT: Cada realidade é um caso e dentro de sua especificidade. O que vem para ajudar é muito bem-vindo.
MZ: Lideranças com quem conversei disseram que abrir espaço para a igreja é abrir espaço para o poder econômico, que muitas vezes vai de encontro à luta do povo indígena. O que o sr acha sobre essa afirmação?
HT: Creio que há um equívoco nisso. Os que querem produzir que sigam em frente, os que não querem têm que ser respeitados. O que não se pode fazer é colocar todas as etnias no mesmo pacote.
Vencedora do Prêmio Cristina Tavares com a cobertura do vazamento do petróleo, é jornalista profissional há 12 anos, com foco nos temas de economia, direitos humanos e questões socioambientais. Formada pela UFPE, foi trainee no Estadão, repórter no Jornal do Commercio e editora do PorAqui (startup de jornais de bairro do Porto Digital). Também foi fellowship da Thomson Reuters Foundation e bolsista do Instituto ClimaInfo. Já colaborou com Agência Pública, Le Monde Diplomatique Brasil, Gênero e Número e Trovão Mídia (podcast). Vamos conversar? raissa.ebrahim@gmail.com