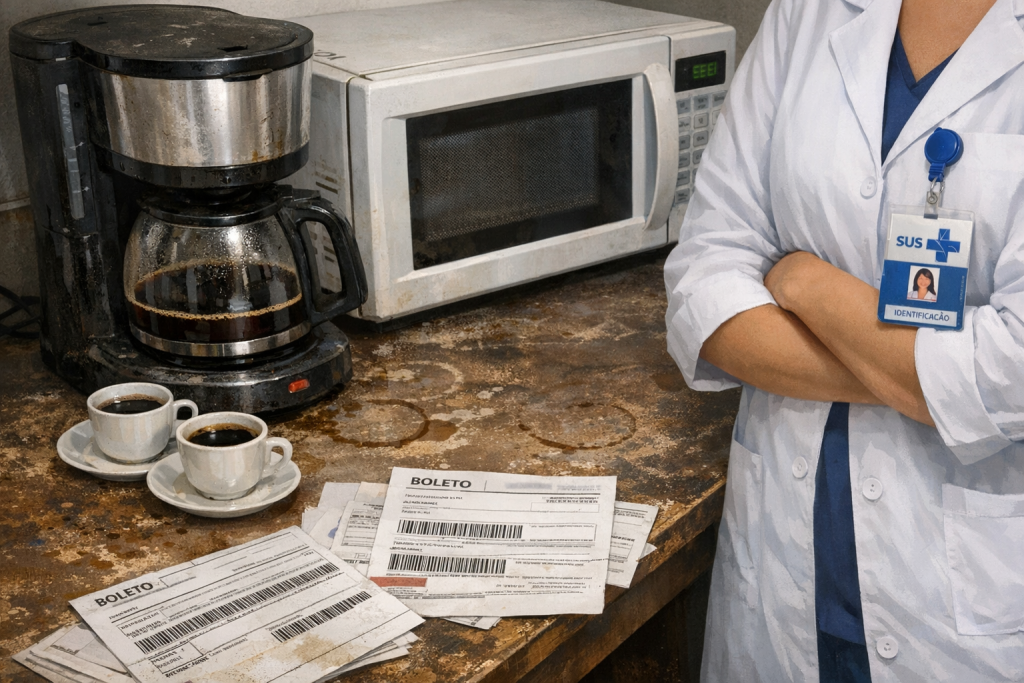12ª Marcha da Maconha confirma força da pauta antiproibicionista

Definitivamente, não se trata mais (somente) do direito a fumar maconha. A Marcha da Maconha, cuja 12a. edição aconteceu nesse sábado, 18 de maio, é hoje a principal mobilização nacional para discutir, de forma popular, a política de drogas no Brasil, os efeitos do encarceramento em massa, racismo institucional, direitos de usuários de drogas, redução de danos e até a relação dessas questões com o machismo tóxico e a situação da população de rua. A ampliação dos objetivos do evento, que acontece em várias cidades, talvez seja o grande trunfo político dos grupos que tornaram a Marcha um protagonista inevitável no debate sobre drogas no Brasil.
Localmente, um indicativo disso é o assento que a Marcha da Maconha Recife passou a ocupar no Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas (Compad). “A pauta se ampliou nesses 12 anos como uma consequência dos efeitos nocivos do modelo tradicional de política de drogas no País”, afirma a advogada Juliana Trevas, uma das integrantes da organização da Marcha.
No evento da tarde desse sábado, que arrastou cerca de duas mil pessoas até o Pátio de São Pedro, a concentração aconteceu no monumento Tortura Nunca Mais, na rua da Aurora. Diversas entidades que organizam a Marcha se fizeram presentes – entre elas a Associação Canábica Medicinal de Pernambuco, muito ativa na busca pela regulação do uso de extratos da canabis para o tratamento de doenças variadas. Houve batalha de MCs, diversos pronunciamentos sobre a política de drogas. E o tema desse ano foi “Sejamos livres. Libertem nosso povo”.
Racismo
O tema, aliás, se refere a um duro aspecto da questão de drogas no Brasil: as políticas públicas, predominantemente, são repressivas e atingem de forma desigual a população negra. As características do contingente carcerário são reiteradamente lembradas como o indicativo mais potente dessa situação – entre 2006 e 2016 quase dobrou o número de pessoas presas no país e hoje já são mais de 726 mil pessoas presas – atrás somente dos Estados Unidos e da China nesse quesito. Mais da metade (64%) são homens e mulheres negros.
E o maior fator de prisão dessa população específica são os crimes relacionados ao tráfico de drogas – 28% da população carcerária total. E isso pode piorar. Os casos de roubos e furtos, quando somados, correspondem a 37% das execuções penais; homicídios, 11%. Os dados são do Departamento Penitenciário Nacional. É um ponto pacífico, entre parte consistente dos especialistas em políticas de segurança, que o modelo de guerra às drogas impõe uma produção e uma aplicação seletiva de legislações para o setor, guiadas por uma concepção racista da sociabilidade popular e também do papel do Estado.
Em certo sentido, esse modelo triunfalista venceu: encarcera com eficiência uma parte da população que historicamente sempre esteve à margem. Em um outro sentido, o padrão da política repressiva às drogas fracassou no país: incentiva disputas territoriais; não reduz o consumo, pelo contrário, e impõe uma ausência do Estado com políticas de longo prazo na periferia – aqui e ali, esse espaço é precariamente ocupado pelo tráfico e/ou pelas milícias.
Esses elementos, históricos, foram a base da guinada da Marcha da Maconha desde pelo menos 2011. “A partir daquele ano, a Marcha começa a transitar com a chegada de outras mulheres e pessoas de periferia, que traziam uma experiência negativa do uso da maconha em relação à segurança pública”, afirma Ingrid Farias, coordenadora da Rede Nacional de Feministas Antiproibicionista (Renfa) e uma das articuladoras da Marcha da Maconha.
Foi esse novo contingente de moradores periféricos que estimulou a Marcha, inicialmente um movimento predominantemente de classe média branca, articulado por homens, a associar à pauta antiproibicionista a necessidade de contribuir com outro modelo de política de drogas, associada a um debate sobre racismo institucional. É essa articulação que cuidou de ampliar o escopo e os objetivos da Marcha.
“É a partir de 2013 e 2014 que passa a ocorrer uma mobilização nacional onde as mulheres passam a se colocar de forma mais intensa, inclusive na condução dos eventos. Então pra mim a ocupação de pessoas faveladas, que durante muito tempo não quiseram chegar na marcha (por entendê-la como um movimento de classe média que só tava ali para reivindicar o seu uso), começa a chegar na Marcha entendendo que esse movimento quer reivindicar uma legalização, pra uma condição coletiva de vida, especialmente do povo negro e da juventude”, complementa Ingrid.
Violência
É bem provável que essa 12a. Marcha tenha sido a que contou com maior número de comunidades do Grande Recife – fruto inclusive de um esforço de capilaridade da organização. Moradores de locais como Ibura, Linha do Tiro, Casa Amarela, Bom Sucesso, Brasília Teimosa, Várzea, o povo do Catucá de Igarassu, Sítio dos Pintos e outros mais chegaram junto.
“O Thcine o foi instrumento que usamos para mobilizar, convidar a galera pra ir a Marcha”, explica Juliana Trevas, referindo-se ao cineclube associado à organização da Marcha. “Nós íamos a onde nós chamássemos com filmes e uma série de discussões sobre a política de drogas: encarceramento em massa, direito dxs usuárixs e redução de danos”.
Essa estratégia chamou muita gente e, com ela, algumas das questões vivenciadas entre comunidades. Isso porque essa foi a única das Marchas já realizadas no Recife em que houve uma briga.
“Quando a gente traz gente dessa juventude, especialmente a juventude negra e periférica, a gente traz pra junto as violações de direito que essa juventude sofre no dia a dia, de sua construção enquanto cidadão. E não são só violações de direitos do ponto de vista de políticas públicas, mas violação de afetos também”, explica Ingrid. “Essa juventude tem direito a ser amada, a ser querida, então é preciso acolher essa juventude que levou para a Marcha uma revolta que é expressa muitas vezes a partir de uma perspectiva de violência porque a violência é a principal forma de comunicação que essa juventude teve. Mesmo assim foi muito importante termos conseguido levar tanta gente de lugares diferentes”, finaliza.
Luiz Carlos Pinto é jornalista formado em 1999, é também doutor em Sociologia pela UFPE e professor da Universidade Católica de Pernambuco. Pesquisa formas abertas de aprendizado com tecnologias e se interessa por sociologia da técnica. Como tal, procura transpor para o jornalismo tais interesses, em especial para tratar de questões relacionadas a disputas urbanas, desigualdade e exclusão social.