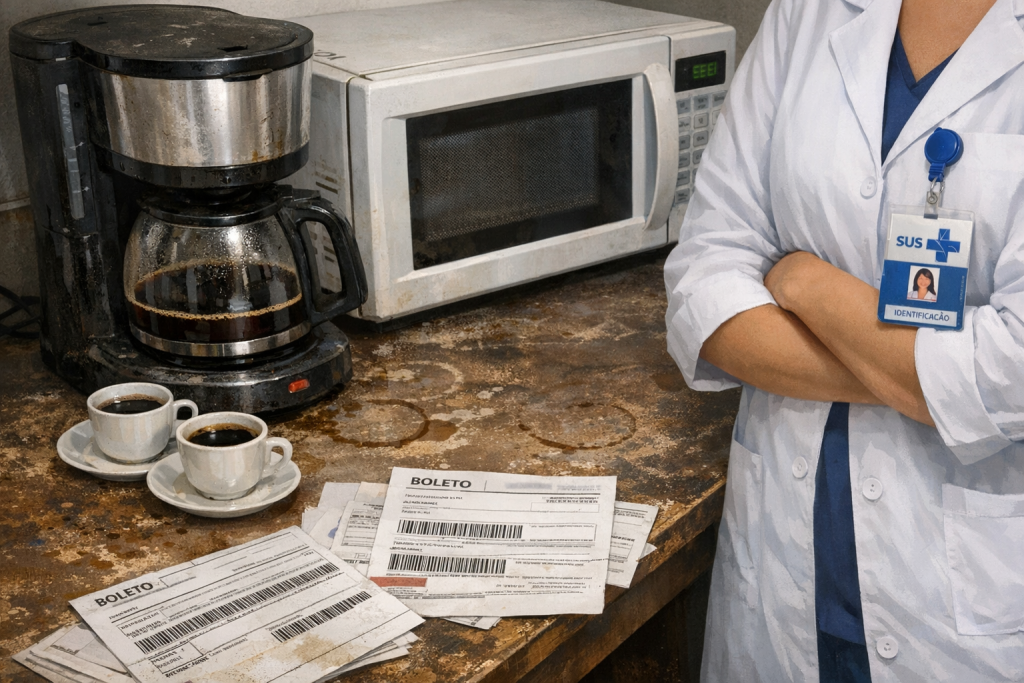O Estelita é um Aleph

Crédito: Leonardo Cisneiros
Chico Ludermir*
Quando recebi pelo whatsapp a notícia de que o Cais José Estelita estava, outra vez, sob risco de demolição, eu acabava de ler “O Aleph”, um dos contos mais importantes de Jorge Luis Borges e, quiçá, entre os mais conhecidos da literatura latino-americana. O texto já tinha chegado perto de mim muitas vezes. Gostaria (deveria) de tê-lo lido há tempos, mas não tinha. Calhou de ser naquela terça-feira, 19 de março de 2019, com o computador no colo, deitado na cama, sozinho, longe de Recife (e do Cais) há quase uma semana e, sobretudo, em sincronia com aquela informação que me inquietava de uma maneira agoniante.
A sobreposição entre as palavras do conto – falando da demolição de um lugar que se extrapolava em significados por conter um “mirante” para o entendimento do mundo – e das mensagens de especulação sobre a derrubada dos armazéns, que pipocavam no meu celular, me fizeram entender com ainda mais clareza: o Estelita é mais do que o Cais. Ele é um dos pontos de onde se vê um todo, em suas mazelas e possibilidades. Pegando emprestado a fabulação de Borges, o Estelita é, não tenho dúvida, um Aleph.
Antecipei minha volta pro Recife. Eu, minha mala e meu cachorro, Moacir, nascido em 2014, justo no ano da primeira ocupação. Durante o caminho, dentro de um carro de um desconhecido (voltava de carona), não pensava em outra coisa que não nessa metáfora, carregada de tantos sentidos.
O Aleph (o conto), para quem nunca leu, se passa em Buenos Aires, na primeira metade do século XX. A partir da morte de Beatriz Viterbo, o próprio Borges, narrador do texto e possível amante dela, passa a relatar suas visitas anuais à casa da falecida, situada na Rua Garay. Todo dia 30 de abril, o escritor voltava àquele endereço, cheio de memórias, até que mais de uma década depois, ele recebe a notícia, por Carlos Argentino, primo-irmão de Beatriz e morador do imóvel, que a construção seria demolida para dar lugar à expansão de uma confeitaria vizinha. “A casa de meus pais, minha casa, a velha casa enraizada da rua Garay!”, comentou, entristecido, Argentino para Borges.
Acontece que, além de seus significados pessoais, a casa da Rua Garay carregava uma magia – e essa é a surpreendente virada que nos arrebata e nos conecta com a nossa alegoria. No porão dela, havia um Aleph – “um dos pontos do espaço que contém todos os pontos”; “O lugar onde estão, sem se confundirem, todos os lugares da orbe visto de todos os ângulos”. O que a eternidade é para o tempo, o Aleph é para o espaço, nos aponta Borges. A casa era muito mais do que os seus tijolos e azulejos. Sua importância extrapolava uma dimensão concreta e mesmo uma relação pessoal. Era importante pro mundo porque de lá, se via além.
Quando em março 2012, fui à primeira audiência pública sobre o Projeto Novo Recife – a de apresentação da proposta criminosa e elitista de 13 espigões na beira da Bacia do Pina, nem eu nem ninguém poderia imaginar o que se sucederia a partir de então. De início, através de uma mobilização social expressiva e espontânea (para não dizer comoção), aconteceram as ocupações dominicais, que imantaram aquele lugar e afirmaram para a cidade a sua vocação para ser de todxs, público: shows, rodas de diálogo, espetáculos; banhos de piscina, aulas, intervenções urbanas, cinedebates. O Estelita já começava a ser, desde lá, um lugar de encontro, “comum” – aquele mesmo, constante em todos as propostas alternativas à do Consórcio Novo Recife.
Em 2014, durante a primeira ocupação, desencadeada por uma demolição ilegal, na madrugada do dia 21 de maio, as pessoas puderam adentrar naquele espaço pela primeira vez. Os anos de abandono intencional do Cais tinham trancado aquele lugar e privado a gente de conhecê-lo, em sua potência. O acampamento, além de salvaguardar o Estelita, em sua existência física, foi um portal aberto para toda a população conhecer um dos terrenos mais bonitos do Recife, que ficava atrás daquele casario colorido e desabitado. O Estelita deixou de ser passagem de carro, de ser visto de fora. Ele nasceu para os recifenses e para o mundo. E tornou-se ponto de gravidade para uma série de mobilizações políticas.
Crédito : Marcelo Soares/Direitos Urbanos
E como era grande, amplo. E como cabiam sonhos ali. Durante quase um mês – que pareceram durar uma vida, como é próprio de uma temporalidade expandida das ocupações – o Estelita exerceu uma centralidade magnética. Para lá convergiam diversas pessoas, cada uma com um desejo de troca: oferecimento e aprendizado. De lá emanava-se uma energia de luta e articulação política autônoma que extrapolava os limites dos muros. Amadureceram as discussões sobre o direito à cidade, ali dentro do Cais. De lá também pudemos olhar para outras centralidades de periferias e entrar em contato com elas.
O marco da ocupação de 2014, ainda nos ecos de junho de 2013, avivaram uma energia de contestação no recifense, que passou a olhar para a cidade como “sua” de fato, e voltou a se articular organizadamente para interferir no modo de urbanização proposto para ela. “Se o nosso mundo humano foi imaginado e feito, então ele pode ser reimaginado e refeito”, disse Harvey. Nós nos pusemos a reimaginar e a refazer.
Ocupações são experimentos de sociedade. E outra forma de vida pulsava ali dentro, questionando modelos falidos de sociedade de exclusão e marginalização de muitos em favor dos privilégios de poucos. Não era só pela paisagem, pela arquitetura ou contra os engarrafamentos – e era também. Era a necessidade de pensar/viver numa cidade em que mulheres pudessem se deslocar sem medo, em que pretxs não fossem alvo de perseguição e de extermínio, em que a pobreza não fosse criminalizada; num mundo em que os comerciantes informais pudessem ganhar seu pão, que todas as pessoas tivessem direito à moradia e onde as bichas, sapatões e travestis pudessem existir sem apanhar ou morrer.
Depois de atos de rua, ocupações na sede da Prefeitura e da Câmara dos Vereadores; depois do acampamento por três dias na rua da casa do prefeito Geraldo Julio, dos 15 processos judiciais ainda em tramitação e de um sem número de filmes produzidos, eis que chegamos em março de 2019 e nesse exato momento da minha leitura dO Aleph.
Os galpões voltam a ser demolidos e, uma articulação política em torno do Cais, arrefecida, se aquece novamente ao redor de uma reocupação. Pela segunda vez, as pessoas colocaram seus corpos à disposição dessa luta, de uma maneira a deixar claro que não é de uma dimensão somente concreta que se fala – ainda que seja também. É, sobretudo, de uma dimensão, por assim dizer, alephiana,
“Chego, agora, ao inefável centro de meu relato; começa aqui meu desespero deescritor […] como transmitir aos outros o infinito Aleph, que minha temerosa memória mal e mal abarca?”. Eis o nosso desafio:
Desse Aleph que nos dá a ver multiângulos, conseguimos enxergar com transparência um modo de construir a cidade para poucos e em cima de muitas; uma forma de pensar a cidade em lotes e não como algo integrado, como deveria ser; observamos, de perto, os detalhes de um modelo urbano que se direciona aos que podem pagar montantes milionários e que é levado adiante a despeito das necessidades das maiorias;
Vimos, a partir do observatório que o Estelita se tornou que, para manter seus privilégios, o pequeno grupo de “poderosos” passa por cima das vidas, de leis, de casas e de sonhos das pessoas; com clareza, juntas, no Cais, pudemos ver que quem define os caminhos do crescimento da cidade são os interesses das construtoras ambiciosas que não têm outro norte que não o lucro máximo;
Através do Aleph, cravado no coração do Estelita, pudemos enxergar em perspectiva histórica, um caminho calculista de “abandonar” espaços vitais da cidade, desvalorizando-os e retirando-os do imaginário da população para, em seguida, apresentar a falsa dicotomia do tudo ou nada: ou são os espigões e seus impactos ambientais e sociais, ou é a manutenção do desuso.
Pudemos ver, desse mesmo lugar, a relação promíscua entre a prefeitura e as construtoras que financiam suas campanhas e que, por isso, ganham de presente o direito de mandar no projeto urbanístico do Recife, interferindo diretamente até mesmo no Plano Diretor; percebemos, ainda, que, na verdade, construtoras e boa parte da política institucional representam os mesmos interesses, porque são, ao fim, membros da mesma oligarquia branca e coronelista que domina a capitania hereditária que Pernambuco ainda é.
Com estarrecimento, desse mirante, foi possível enxergar também a agência das empresas de comunicação, servindo como assessores de imprensa daqueles que são seus principais anunciantes e assinantes ou que são seus comparsas nas máfia da construção civil. Os donos das empresas de comunicação são ligados a esses mesmos políticos e empreiteiros, muitas vezes consanguineamente, vimos do Estelita. Olhamos o próprio judiciário trabalhar a serviço do capital e afastar e perseguir profissionais que atrapalhavam os projetos milionários de privatização da cidade.
Constatamos, do Estelita, uma indignação seletiva de uma parcela de pessoas, que parece ser contra corrupção apenas quando lhe convém, mas que fecha os olhos para os crimes das construtoras, envolvidas em um leilão fraudulento, de cartas marcadas e, mais, em escândalos de desvio de verba, caixa dois, denunciadas na Lava Jato e condenadas por trabalho escravo.
Vimos, mas dessa vez, também sentimos, o som ensurdecedor das bombas, o ardor do spray de pimenta e as dores das balas de borracha no nosso corpo. E pudemos assegurar de que lado está o Governo do Estado de Pernambuco e sua polícia. Sentimos na pele o risco de sermos soterrados pelos escombros das paredes que nós defendíamos em pé.
Nos espantamos com a perversidade da Moura Dubeux em fazer promessas vazias de emprego, alimentando falsas esperanças em uma população extremamente vulnerável, numa tentativa de jogá-los contra xs ocupantes. Vimos ditos líderes comunitários enganarem seus iguais e se venderem por cargos comissionados numa prefeitura que não hesita em cooptar aqueles que podem lhe servir momentaneamente. Vimos, com muita tristeza, as nossas limitações em dialogar com essas pessoas – o que revela além do jogo sujo da MD e da compactuação da mídia com ele, uma demanda urgente de nos aproximarmos das bases.
Mas, no Estelita, pudemos ver também e, sobretudo, a nossa força; nossa alegria de sonhar coletivamente; de colocar em prática uma forma solidária e amorosa de viver. No Estelita pudemos nos reconhecer enquanto sujeitos que pensam e constroem uma cidade e um mundo melhor para todas. Pudemos sentir a intensidade da potência dos afetos vibrando em noites insones à luz da lua e também o conforto do companheirismo em horas de muito medo.
De lá vimos o duende que dava as boas vindas à “Vila Estelita” e a criatividade para reinventar formas vaga-lumes, com brilhos que tornam tudo mais bonito. Lá dançamos de muitas formas, sem normas, sem ritmo, ou num bailado sincronizado da coletividade em marcha e ato. Lá nos reconhecemos fortes, fracos, humanos e falhos. Vimos nossas potências e nossas limitações diante de uma estrutura que tenta nos esmagar – e muitas vezes, no esmaga. Conseguimos feitos inacreditáveis somando a energia de cada uma. Vimos “um poder comum, sem asssinatura e passageiramente invulnerável”, como disse o Comitê Invisível. “Invulnerável porque a alegria que emanava de cada momento, de cada gesto, de cada encontro jamais poderá ser retirada de nós”.
Compomos, filmamos, desenhamos e intervimos. Pautamos uma discussão de forma complexa em toda a cidade. Propomos que o Estelita fosse um parque público e que ajudasse a sanar o déficit de moradia, cedendo parte de seu território para construção de moradias populares. Colamos nossas mãos nas paredes como faziam os nossos antepassados. Deixamos vestígios como há milênios se fez nas cavernas, apontando para a possibilidade de sempre poder rememorar e dizer quem fomos e onde estivemos quando o mundo parecia ruir. Vimos o pôr-do-sol, o nascer do dia. Nos machucamos e nos curamos umas às outras. Nos demos às mãos e nos arriscamos como única possibilidade de continuar vivxs e não robotizadxs. Vimos pessoas amadurecerem e se tornarem adultos, como eu mesmo, que dentro do Estelita passei a me sentir adulto. E partilhamos o que existe de mais precioso que é a possibilidade de seguir junto em luta por aquilo que a gente acredita.
O Estelita, é um Aleph. E de lá, asseguro, eu pude ver muita coisa. Mas não vi sozinho. Muitas viram ao meu lado e a elas agradeço por terem me permitido ver também. Outros tantos não conseguiram ver que lá “sonham as formigas verdes”. Mas, como nos aponta Borges, essa incapacidade, não invalida meu testemunho, mas ressalta uma cegueira.
Os muros estão no chão, é verdade. E isso nos destrói também porque é parte da história da gente que se vai. Mas tem algo que está lá. Que ainda está lá e que sempre estará lá. Um outro Cais ainda é possível. E vamos continuar lutando para que, daqueles escombros cresçam nossos parques e moradias para os que não têm. Para que se construam praças, equipamentos culturais de uso coletivo e comércio, que mantenham a nossa cidade e nossas pessoas vivas.
Um Outro Cais é possível. E independentemente do que eles façam, um outro Cais sempre será possível. Tenho certeza. Eu vi do Aleph.
* Chico Ludermir é jornalista, escritor e artista visual. Integrante dos movimentos Ocupe Estelita e Coque (R)existe, é mestre em sociologia.
É um coletivo de jornalismo investigativo que aposta em matérias aprofundadas, independentes e de interesse público.