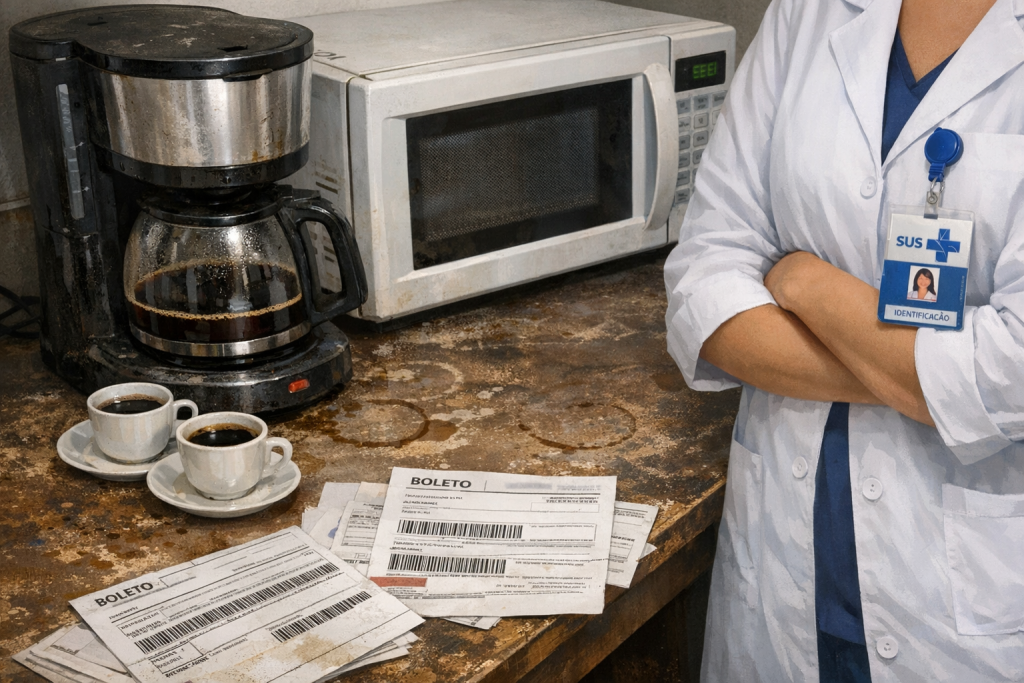Quem tem medo de criptografia? E de regime de exceção?

Cena do filme Dr. Strangelove
Cuidar da segurança dos e-mails, das conversas nas redes sociais e nas ligações telefônicas não é uma prática disseminada. Não raro, é o tipo de providência adjetivada na lista das coisas de quem teme e fala de teorias da conspiração. As escutas telefônicas das conversas do ex-presidente Lula e da presidenta Dilma deveriam servir como conteúdo pedagógico para um amplo leque de sujeitos. Até porque o cenário que se desenha no mês de março do ano de 2016 é o da atualização, no Brasil, de um Estado de exceção muito específico, cuja construção depende de uma campanha midiática, do mundo jurídico como novo front e de diversas tecnologias de monitoramento.
Esse último aspecto precisa entrar na pauta política de cada cidadão, e é de especial interesse para jornalistas envolvidos em situações limite e ameaçadoras; ativistas e movimentos sociais – as esquerdas em geral. A falta de uma cultura de segurança pessoal de dados e ligações, no país, é um grande entrave. Haja vista a própria presidência. Espionada há três anos, não foi capaz de desenvolver um sistema mínimo de segurança que evitasse a interceptação das comunicações ordenadas pelo Juiz Sérgio Moro e ilegalmente divulgadas.
Colocar esse tema em discussão implica em aprender criptografia – o nome se refere às técnicas usadas para embarallhar a informação de sua forma original para formatos só acessíveis ao real destinatário.
Se a segurança da informação trocada diariamente deve se tornar uma preocupação política de primeira ordem, sua contraparte é o processo educacional para isso. As técnicas de criptografia ainda são acessadas por uma parcela mínima e especializada da população. Assim como outras medidas e tecnologias que garantem ou aumentam a privacidade.
Cenário e risco
Talvez não seja casual a não disseminação do aprendizado das técnicas, recursos, softwares de encriptação das comunicações (e-mails, chats e telefonemas). O cenário atual também é pedagógico nesse sentido.
Nos últimos anos houve uma propagação não trivial de gadgets e equipamentos de comunicação conversíveis em dispositivos de vigilância, na forma de redes sociais, smartphones, telefonia celular, navegação na Internet – todos passíveis de monitoramento praticamente sem restrições por parte do Estado ou de qualquer um com os recursos mínimos para isso. E são assimilados no cotidiano pessoal de gestores, profissionais liberais, estudantes, artistas, ativistas, professores de forma completamente acrítica
Soma-se a esse cenário uma legislação frágil de proteção dos dados pessoais e o processo de judicialização da Política, que cimenta o apagamento do Estado de Direito com a gestão do Poder em nome de interesses pessoais, quando deveria ser em nome das Leis. A combinação desses elementos com a pressão por autonomia de autoridades judiciárias e de autoridades policiais tem hoje no ambiente das redes de comunicação uma funcionalidade inédita: nunca foi tão fácil espionar alguém.
A revista MotherBoard detalhou o modus operandi do grampo envolvendo a presidenta e Lula. Após determinação judicial, as operadoras que passam a monitorar as ligações usando softwares específicos para isso. A interceptação não é feita diretamente pela Polícia Federal. A PF faz uso do Sistema Guardião, criado pela Digitro, e com ele recebe e armazena os arquivos enviados pelas operadoras de telefonia.
A questão que se impõe, é: se Dilma e a Presidência tivessem desenvolvido alguma cultura de proteção dessas conversas, como sugerido por Eduard Snowden há mais de um ano atrás, o que aconteceria?
Em primeiro lugar, poderia ter sido iniciado uma mudança na cultura da troca de informações dentro do Governo. Caso fosse do interesse da presidência, em seguida poderia ter sido dada a largada num espalhamento dessa cultura – digamos por meio do aprendizado do uso de recursos de criptografia. Mas essa oportunidade, como muitas outras no governo petista se perdeu.
Em segundo lugar, a conversa não seria detectada, pois o arquivo seria uma amontoado de ruídos indicerníveis e não poderia ser usado como mais um tijolo na construção do projeto de instabilidade e mudança de poder atualmente em curso.
Na semana passada uma nota coletiva elaborada pelos grupos Rede LAVITS, GPoPAI e MediaLab reivindicava e alertava pela “retomada do apoio a projetos de implementação de softwares livres nas esferas públicas; a adoção de padrões tecnológicos abertos e socialmente mais inclusivos na radiotransmissão digital; o fomento à infraestrutura pública para o acesso universal à Internet; o respeito à privacidade e à liberdade de expressão; o reconhecimento do espectro eletromagnético como um bem comum; e o incentivo ao aprendizado da comunicação criptografada e navegação anônima, aprimorando a segurança de máquinas, programas e dados”.
Embora coerente e acertado, esse conjunto de sugestões tende a ficar cada vez mais distante de implementação em um horizonte de curto prazo. Mesmo assim, precisa entrar na agenda dos movimentos democráticos e, em última instância, de cada cidadão a viver sob o teto do regime de exceção que está se formando.
Luiz Carlos Pinto é jornalista formado em 1999, é também doutor em Sociologia pela UFPE e professor da Universidade Católica de Pernambuco. Pesquisa formas abertas de aprendizado com tecnologias e se interessa por sociologia da técnica. Como tal, procura transpor para o jornalismo tais interesses, em especial para tratar de questões relacionadas a disputas urbanas, desigualdade e exclusão social.