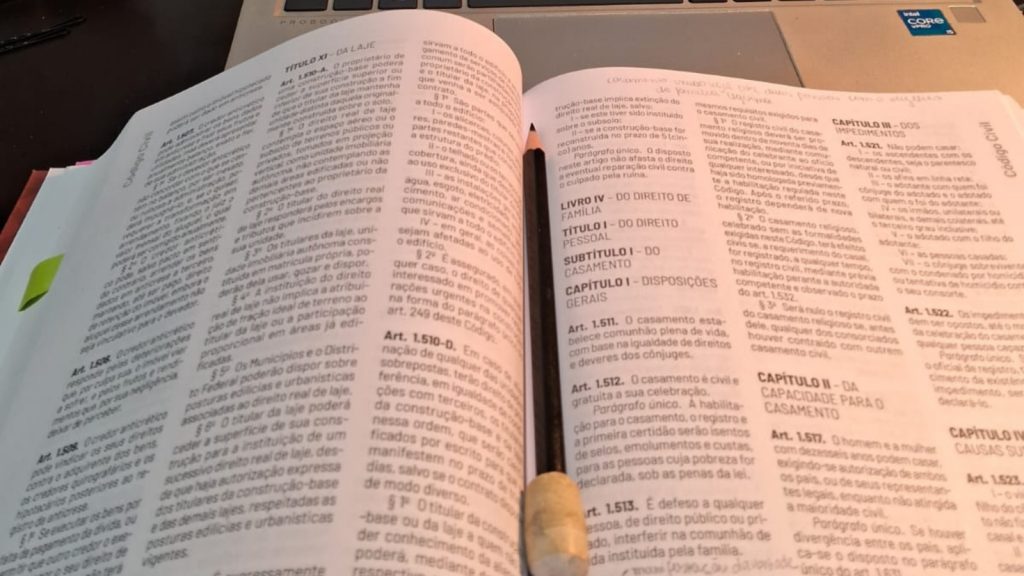Tá com pena?
Por Diego Viana
Do Para ler sem olhar
Tem um ponto, nessa moda assustadora de defender o encarceramento de adolescentes, que merece um pouco mais da nossa atenção. Refiro-me ao esquisitíssimo não-argumento que todo mundo já ouviu (ou, cruz credo, emitiu): “se tá com pena, leva o bandidinho pra casa”. O modo de raciocínio por trás de uma frase como essa, embora primário, revela uma enormidade sobre o contexto em que ela pode ser produzida e disseminada. Poderia, afinal, ser só mais uma daquelas bobagens que dizemos em bar; mas muita gente realmente acha que semelhante frase “expõe a hipocrisia” (ou algo assim) de quem adverte que nada de bom pode sair de um disparate como essa PEC.
Por sinal, eu soube recentemente que essa barbaridade tem saído não são só da boca de comentaristas franco-atiradores nas rádios paulistanas, essa gente que ganha a via fomentando e explorando o medo de seus ouvintes mais simplórios1. Mesmo os deputados defensores do projeto2, que deveriam pelo menos ter se armado de ferramentas argumentativas, se expressam aberta e publicamente dessa maneira vergonhosamente pueril – sem falar nas citações bíblicas, é claro. À primeira vista, parece ser mais uma demonstração da famigerada onda conservadora, associada à pressão renovada de interesses escusos, como o lobby de administradoras de presídios e fabricantes de armamentos, que se aproveitam de um momento político propício a aventuras inconseqüentes.
Mas há algo mais aí: por um lado, a onda conservadora, no fundo, tem mais cara de vazamento no casco do sistema político: pelas trincas, vai passando um fluido ácido que sempre esteve ali embaixo, mas contido por uma calafetagem que parecia funcionar. E por isso os esforços dos tais lobbies encontram tanta reverberação: conseguem fazer ressoar algumas cordas que já estavam à disposição para formar os acordes dessa gritaria que ouvimos dia após dia. Por outro lado, por maior que seja a força midiática desses interesses, e tão excepcional quanto seja o momento político, eles não chegariam tão longe sem uma escolha eficaz das palavras: a mensagem encontra seu destinatário porque tira as palavras de sua boca. E é isso que quero explorar.
Comiseração e vingança
“Se tá com pena…”, eles dizem. Mesmo sabendo perfeitamente bem que a “pena” ou sua ausência não estão em jogo. Tanto é que, em geral, a fórmula é lançada no meio da conversa quando alguém argumenta que baixar a maioridade penal não vai reduzir a criminalidade, que já existem categorias de internação para os menores infratores no ECA3, ou ainda mais amplamente, que o efeito do encarceramento em massa sobre a incidência de crimes é, para dizer o mínimo, duvidoso.
Diga tudo isso, cite estudos, use a lógica, e logo você vai ouvir: “se tá com pena…” Mas quem disse que o que está em jogo é uma questão de piedade? Não estávamos aqui para discutir o sentido das políticas públicas? Pouco importa. O que importa é circunscrever todo o problema a uma dança macabra de afetos: o medo, a raiva, a vingança, que são sentimentos pesados e tristes, mas sinceros, contrapondo-se à misericórdia, ao bom-mocismo, à ingenuidade, que são belos e admiráveis, mas hipócritas.
Não é significativo que esse seja o recorte favorito no país do “homem cordial”? Aquele que age emotivamente, impulsivamente, que explode em violências das mais brutais, instantes depois de se desdobrar em carinhos acompanhados de apelidos no diminutivo? Perguntei e já respondo: é extremamente significativo, sobretudo porque revela o quanto é estéril responder a essa fórmula barbaresca com uma verdade tão evidente que chega a soar como platitude: “não é boa idéia legislar com o fígado”…
Claro que não é boa idéia, mas é justamente o que procura fazer o brasileiro cordial, quando justifica com a raiva individual (“queria ver se um bandidinho desses matasse a sua filha”!) o legislar com o vocabulário do ódio. Ao introduzir a idéia do “homem cordial”, Sérgio Buarque o faz pela oposição do geral ao particular, do Estado à família, do formal ao afetivo. Mas isso não significa, é claro, que o lado cordial, ligado ao particular, ao familiar e ao afetivo, exclua que se possa sistematizar uma ordem social e política mais ampla. Tudo isso existe no Brasil, vemos muito bem.
Mas é em ocasiões como essa que testemunhamos a manifestação do constante recurso ao particularismo, ao afeto, ao doméstico no coração da sociabilidade à brasileira. Se formos pensar na criminalidade como problema a ser resolvido (objetivamente) e não como demônio a esconjurar (afetivamente), seria preciso pôr em ação uma série de transformações muito profundas. Seria preciso, como diz Paulo Sérgio Pinheiro, determinar as políticas públicas de modo a prevenir a entrada dos jovens no universo do crime. No âmbito da política carcerária, seria preciso trabalhar com velhas idéias como reinserção e ressocialização, que podem ter inúmeros defeitos, mas já seriam um enorme avanço em relação ao que temos no Brasil. Todo mundo sabe disso muito bem, e se prefere repetir ladainhas sobre “vagabundos”, “bandidos” e outros adjetivos, não é pela falta circunstancial de informação, mas como um gesto deliberado de recusa ao enfrentamento de nossos, digamos assim, na falta de expressão melhor: “vícios fundamentais”.
Afinal de contas, como se pode pensar em diminuir a criminalidade no Brasil sem mexer nos alicerces profundos do modo de vida com que estamos acostumados? Não existe solução para a violência, nem para a sujeira, nem para a corrupção, nem para a economia, no Brasil, que não passe por 1) um sistema eficiente e universal de educação pública, como o que costumava existir no mundo que costumava ser desenvolvido; 2) o redesenho das cidades, para que se tornem menos sectárias, belicosas e excludentes; 3) campanhas intensivas (e não estou falando de publicidade) de combate ao racismo do dia-a-dia, aquele do qual no mais das vezes nem sequer nos damos conta – mesmo as pessoas que o sofrem na pele; 4) a rejeição generalizada e intransigente às relações de trabalho abusivas e reminiscentes da escravidão; 5) uma série de outras coisas, mas não sentei na frente do computador para ficar fazendo listas.
Quando circunscreve a discussão sobre a maioridade penal, mas não só – também sobre o encarceramento como um todo, e sobre a relação entre o poder público e os pobres em geral –, a uma questão de afetos em conflito (raiva versus piedade), o cordialíssimo brasileiro4 manifesta, como eu disse, sua lealdade e sua subscrição ao nosso tradicional modo de vida, o sistema quotidianamente belicoso que vige nesta terra, ao que parece, desde o tempo de Peri e Ceci. A propósito, quando alguém diz que “defender direitos humanos é defender bandidos”, é sempre bom lembrar que, ao contrário, defender um estado da arte fundado sobre a violência constante é defender a atuação daqueles que nela tomam parte, incluindo aí os bandidos…
Dentro de casa
Só que a questão não pára por aí, porque, depois de levantar a bola afetiva da “pena”, vem a proposta: “leva pra casa”. Poderia ser só uma forma de expressão hiperbólica, exigindo uma atitude radical, bem mais complexa do que o mero ajudar financeiramente, fundar uma ONG ou tantas outras formas de “solução individual” que poderiam ser sugeridas. Poderia ser só uma ironia com atitudes realmente abnegadas, como as das pessoas que adotam animais abandonados5, ou que transformam suas salas em enfermarias para atingindos por desastres, ou que abrem suas cozinhas para alimentar os famélicos da terra e assim por diante. Na lógica de alguém que se dispõe a pronunciar uma frase como essa, quem não acha saudável uma sociedade em que meganhas passam seus dias a correr atrás de garotos deveria estar disposto a santificar-se, caso contrário… é um hipócrita (e antes que você pergunte: não, isso não faz o menor sentido).
Mas tem muito mais pano para essa manga. Lembre-se: estamos falando de Brasil, país onde a casa tem uma função particular, como estudou exaustivamente Roberto DaMatta. Não simplesmente a casa é o reino do particular e familiar, como diria Sérgio Buarque, mas também e principalmente ali onde o íntimo se esconde. O ambiente em que o grupo familiar se protege, onde a vida se desenrola efetivamente, por oposição ao ambiente externo dedicado às disputas por espaço, posição e poder, e também às relações econômicas, extrativistas e competitivas. A casa, ali onde devemos pensar que estamos seguros, onde devemos fazer parecer que estamos seguros, onde ninguém pode meter o bedelho, o ambiente que chamamos de “lá dentro” e cujo ponto e dispositivo de interação com o exterior é a sala de visitas, espécie de entreposto.
A rigor, na vida urbana do Brasil contemporâneo, que é vivida em condomínios – ou, mais simplesmente, prédios –, poderíamos dizer que o que melhor corresponde a esse entreposto não é a sala dos apartamentos (a maioria delas, hoje, abertas demais para exercer o papel), nem muito menos o pequeno vestíbulo (se é que é chamado assim) entre o elevador (social) e a porta dos apartamentos, porque este só existe propriamente nos edifícios mais ricos e não serve a nenhum tipo de interação. Esse papel cabe àquele quadrilátero gradeado na portaria, com duas portas que não se abrem simultaneamente (por segurança, como sempre). Ali onde o motoboy da pizza espera pelo morador que desce com o pagamento.
Um espaço mágico, onde a pizza deixa de ser uma mercadoria, objeto de troca que, no percurso entre a pizzaria e nossa mesa, sujeita-se a todos os perigos do espaço público urbano brasileiro, em que o entregador disputa a rua com os carros e cumpre o cronograma apertado da entrega. Um espaço mágico, onde esse mesmo objeto redondo e cheirosinho passa de mercadoria a comida, sai do ambiente da disputa pública para o do deleite privado. A área delimitada onde o acesso é decidido por um dispositivo sob controle do porteiro, mediante consulta ao condômino. Uma autêntica câmara de descompressão!
Mas, outra vez, não sentei no computador para escrever sobre a distribuição espacial dos afetos urbanos; acho que já deu para entender que a idéia de “levar pra casa” está longe de ser neutra ou mera ironia. “Leva pra casa”, ou seja: acolha você mesmo, introduza esse marginal na sua intimidade, você que “gosta de bandido”. Transforme um problema de todos (ou, melhor dizendo, a encarnação física de um caminhão de problemas que são de todos) em um problema todo seu, só seu: abrigar um “bandidinho” em casa, tentar endireitar esse pau que nasceu torto, fazer como o Monsenhor Myriel, personagem de Victor Hugo, que cede a prataria para incutir o valor da moral em Jean Valjean. Mas, sobretudo, conviver com a sujeira, a feiúra, a hostilidade que, em nosso raciocínio cordial, tem seu lugar no ambiente público.
Também não é que alguém, em algum lugar, pense que “levar pra casa” traga a solução para o que quer que seja. Exceto, talvez, alguém como o monsenhor de Victor Hugo, que se contenta com “salvar uma única alma”. O importante, para quem emite esse tipo de ordem, é que cada coisa fique em seu lugar: a pureza do “lá dentro”, que é a casa, e o conflito ininterrupto que prossegue nas ruas. A idéia é que, se alguém quer bagunçar essa ordem (sem entrar no mérito de que essa ordem é uma tremenda bagunça: ela tem sua lógica e sua razão de ser, ainda que atroz), tinha mesmo era que bagunçar seu próprio espaço, o seu “lá dentro”. Tudo aquilo que não cabe no “lá dentro” deve ficar ao “deus-dará”: terra em disputa, terra do conflito, selva de pedra.
Bandidos e bandidinhos
Até aqui, os componentes que indiquei tratam de enquadrar toda a questão da violência e dos “adolescentes em conflito com a lei” (adoro esse eufemismo paupérrimo) como fenômeno da esfera individual. O adolescente que é, essencialmente, bandido; o sistema carcerário, que serve para punir aquele criminoso, que perpetrou aquele ato; o “defensor dos direitos humanos” que deve “levar pra casa”, sua casa. O que está ausente dessa linha de raciocínio (além de qualquer coisa que possa ser associada a um raciocínio) é um quadro geral em que o conjunto da população, a “pólis”, tenta conceber as possibilidades de convivência e até mesmo um projeto para o futuro. Está ausente o encadeamento causal, em que as escolhas que a pólis faz hoje se refletem nas condições de sua própria existência amanhã: individualismo e, sobretudo, imediatismo: vamos centrar o fogo nos incômodos e nos escândalos à medida que eles aparecem. “Se você quer salvar, muito bem, mas eu quero massacrar: vamos ver o que você consegue com sua casa e o que eu consigo com minha algema e minha consorte de seguranças (dignos do Som ao Redor)”. E não se fala mais nisso.
Mas ainda falta um componente a tratar nessa fórmula: o bandidinho. Muitas vezes, dito assim mesmo, no diminutivo, como se fosse só para dar razão a Sérgio Buarque quando diz que as formas cordiais podem servir tanto à amabilidade quanto à ameaça. Mas em outras ocasiões, é só “bandido”; em outras ainda, ele nem é mencionado: “tá com pena? Leva pra casa!” Seja como for, a figura do “bandido” aparece em todo canto. É um termo fácil de usar, porque parece mobilizar uma essência, sem demandar casos concretos ou contextos. Assim, se o termo “trabalhador” pode ser empregado sem referência a qualquer trabalho em particular (não sou manobreiro, torneiro mecânico ou frentista: sou “trabalhador”), o mesmo vale para seu oposto operacional, o bandido. Não é o sujeito que matou uma família inteira, estuprou todo o convento, meteu no bolso o dinheiro da Petrobras, apanhou goiabas no quintal do vizinho, atropelou ciclistas, bêbado, de madrugada. O bandido é o bandido e ponto, não há muito a explicar.
O “conceito” de bandido funciona tão bem porque consegue, de fato, operar o recorte de uma categoria social, notadamente aquela que se opõe a trabalhador. Ela se refere, normalmente, àqueles que estão em posição de inferioridade, fragilidade e, em geral, vulnerabilidade, e por isso teriam (segundo essa linha de raciocínio) de “fazer uma escolha”. Aquele que pende para o lado do trabalhador cumpriu seu papel; aquele que pende para a bandidagem traiu um código moral implícito. Eventualmente, usa-se “bandido” também para se referir ao poderoso que monta grandes esquemas de corrupção, mas esse uso busca apenas igualá-lo ao verdadeiro bandido: o corrupto não passa de um bandido, ou seja, ele está na categoria social de alguém que deveria pertencer à gentalha – para citar Sarkozy, à racaille… Traduzindo: não é o caso de puni-lo pela letra da lei, mas acima de tudo degradá-lo na escala social, tal como percebida.
Mas se o bandido é capaz de mobilizar tantas paixões, não é tanto por seu pendor para o crime, nem pelos roubos e mortes que possa cometer em si. O bandido, como paradigma daquele que rompeu o código moral implícito, é um espectro que está sempre por aí. O “trabalhador”, por exemplo, nunca deixa de ser o inferior, frágil, vulnerável, então pode sempre se cansar disso tudo, dos inúmeros abusos de que será seguramente vítima, e converter-se em bandido. Nessa lógica, os empregados, os serviçais, até os alunos de escola pública, nunca são inteiramente confiáveis: um espectro de ruptura com o código moral (que é também econômico, modo extra-oficial de relações de trabalho etc., não nos esqueçamos) está sempre pairando em todas as relações, sejam quais forem. O código moral implícito, o código econômico informal, é ele mesmo frágil e vulnerável, porque depende da disposição de um enorme contingente de pessoas para deixar-se anular em seu desejo e sua potência, por medo de serem punidas com a brutalidade das punições que aplicamos. Mas essa disposição de anular-se nunca é totalmente assegurada.
E tem outro aspecto importante, que dificilmente alguém vai admitir, mas está na cara de todos. A figura do bandido é extraordinariamente fascinante e sedutora. O bandido, o bandoleiro, o aventureiro (nas palavras de José de Alencar), que não estão muito distantes do justiceiro, do matador de aluguel, do malandro. Ou do vagabundo, essa denominação tão linda pela sua ambiguidade explosiva, demolidora, incontrolável! Quantos não são os defensores da redução da maioridade penal que adoram as histórias da Lapa antiga, ou a trajetória da sinistra Escuderia Lecoq, ou a saga do cangaço? Quantos não se identificam abertamente com as aventuras dos bandeirantes?
Em 1782, Friedrich Schiller apresentou sua peça Os Bandoleiros (Die Räuber), que punha em cena um anti-herói de origem aristocrática que desnudava as contradições de seu mundo tão bem organizado. Relatos da época dão conta de que, ao final, o público desmaiava e urrava por empatia com os personagens. Bandidos? Justiceiros? Cavaleiros errantes? Certamente não “trabalhadores”… O bandido é uma figura clássica do imaginário ocidental e provavelmente mundial, a julgar por obras como Os Sete Samurais, de Kurosawa. Os bandidos remetem àqueles salteadores de beira de estrada, que andavam em bandos e tomavam de assalto as caravanas que se aventuravam nas antigas estradas medievais ou na rota da seda. De certa forma, o bandido até hoje faz referência a essas figuras arquetípicas: alguém que interrompe o fluxo do comércio, a logística do reino, aquilo que é esperado e necessário para reproduzir o modo de vida de uma sociedade que enxerga a si própria com muito bons olhos.
Acontece que esses bons olhos também têm sua visão periférica; eles intuem a existência de algo além, de algo que não é contemplado, e que poderíamos designar como a potência daquilo que se vislumbra apenas sob a forma do submetido, dominado, sufocado. Uma espécie de economia paralela, que se adapta à situação esgueirando-se pelos poros e os interstícios, florescendo como parasitismo enquanto afirma para si mesma uma determinada forma de positividade, na falta de outros caminhos. Uma potência de vida que percola, aproveita-se da capilaridade dos edifícios que pareciam tão sólidos e impermeáveis, espalha-se por todos os compartimentos. E essa economia paralela não pode ser completamente anulada ou afastada, porque constitui o suplemento inapelável da ordem instituída, o diverso que não coube no formalizado e se organiza por conta própria, mantendo com o central um contato esporádico na base da expropriação e da violência, uma espécie de pedágio que o fora cobra do dentro, e que espelha, do jeito que pode, a expropriação e a violência de que é objeto ininterruptamente.
Pode-se dizer que o que vale para o “bandido” vale também para o “bandidinho”? Sim e não. Um garoto magricela e desgrenhado, que cheira cola e ataca motoristas com um caco de vidro, dificilmente tem a mesma aura de transgressão e ousadia que um Madame Satã ou um Robin Hood, o Cara de Cavalo ou Bonnie&Clyde. Mas esse que descrevi, com traços de Pixote, é o menor infrator que está aí fora. O criminoso juvenil da imaginação pública é bem mais perturbador. Quer ver? “Se já tem idade suficiente pra votar, se já tem idade suficiente pra transar, então já tem idade suficiente pra ir pra cadeia”, etc. Já ouviu isso? Em que pese a pessoa que enuncia essa tolice estar fingindo que não separa coisas que, em sua cabeça, são perfeitamente isoladas uma da outra (o sexo e o voto podem se aplicar aos próprios filhos; a cadeia, bem, aí tem que ver as circunstâncias, né…), é notável a associação entre as potências (desejante, cognitiva, decisória) e a imediata necessidade de as bloquear e suprimir. Essas pessoas são forças (assim como é uma força o espectro do bandido), então precisamos exercer sobre elas uma força maior e contrária, desde já: para que não criem asas…
A propósito: não é estranho que alguém que fica “chocado” porque um adolescente faz algo “de adulto” como o voto ou o sexo não fique igualmente “chocado” com a idéia dessa mesma pessoa cumprindo pena “de adulto”? A ironia nisso tudo é que, não raro, são essas mesmas pessoas que bloqueiam campanhas de conscientização contra a gravidez na adolescência ou aulas de educação sexual nas escolas (quando não querem mesmo destruir o sistema escolar como um todo). Mas estou começando a divagar e não sentei no computador para isso!
Escapismo
Na hora em que escrevo, há poucas esperanças de que se possa evitar algum retrocesso, que reforçará nosso espírito de violência quotidiana e favorecerá os interesses que financiam a bancada da bala. Qualquer acordo que se costure, no fim das contas, será mais um na sucessão de horrores legislativos que vivemos este ano. Além disso, será mais uma vez em que se tentou responder aos problemas da vida real dando uma apertada na lei, como na interminável sucessão de projetos para elevar crimes à categoria de “hediondo”.
A palavra que eu usaria para descrever a estratégia da “hediondização” dos crimes seria escapismo. Em vez de enfrentar a realidade, apertar a lei. (Por que não pensamos nisso antes? Agora sim, esse país vai pra frente!) Seria essa mais uma característica do “homem cordial” que não chegou a ser descrita por Sérgio Buarque e os demais intérpretes do Brasil? Mais do que o mero bacharelismo, o verdadeiro escapismo de quem gasta uma enorme carga de energia mental para assegurar-se de que nada de efetivo aconteça e continuemos girando em círculos, aí está uma estratégia política brilhante. Mas esse é um ponto que mereceria um texto inteiro só para ele, e não sentei no computador para isso…
1 E que ocupação triste, não? No longo prazo, com que espírito uma pessoa dessas vai olhar para trás e considerar seu legado? “O que foi que eu construí?…” Tudo isso em nome de quê? Um salário suficiente para pagar o IPTU de um apartamento com piscina e academia? Que pobreza.
2 De tão absurda, a PEC 171 merece ser lida
3 Veja o Estatuto da Criança e do Adolescente aqui.
4 Outra de Sérgio Buarque: a assinatura “cordiais saudações” pode servir tanto para expressar amabilidade como para selar uma ameaça.
5 Por sinal, o “leva pra casa” não está longe de tratar esses jovens como animais.
É um coletivo de jornalismo investigativo que aposta em matérias aprofundadas, independentes e de interesse público.