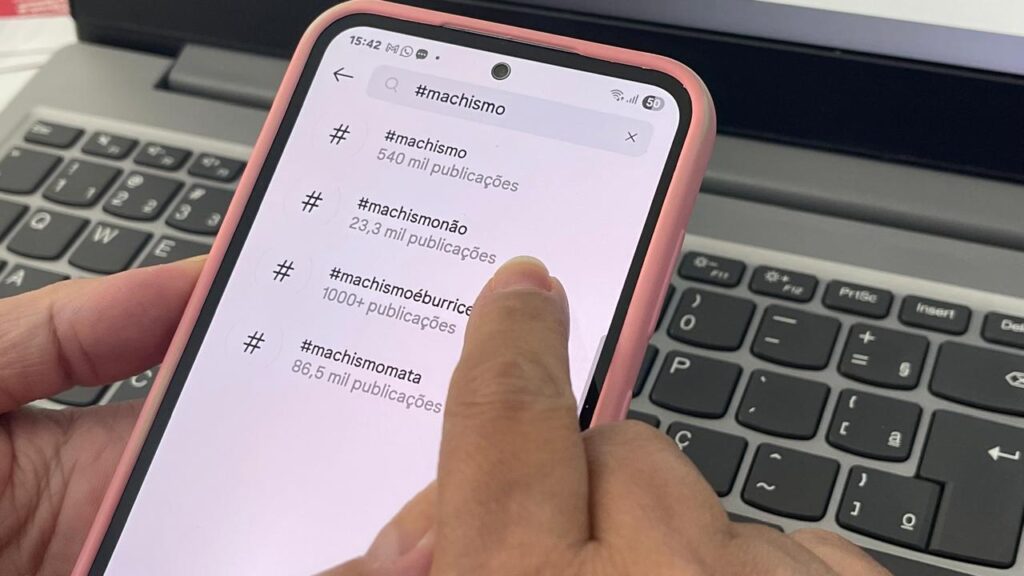Combater a violência política de gênero é dever da sociedade, defende Flávia Biroli

Foto: Acervo pessoal
A violência política de gênero praticada contra mulheres é histórica, mas vem ganhando contornos específicos nos últimos anos e resulta em um agravamento da reação às mulheres na política. Para combater essa prática, primeiro, é preciso desnaturalizar as violências pelas quais mulheres são submetidas, sejam sutis ou escancaradas.
Para isso, é preciso falar abertamente, defende a cientista política, especialista em teoria política feminista e professora de Ciência Política na Universidade de Brasília Flávia Biroli.Ela também é coautora do livro recém-lançado Gênero, neoconservadorismo e democracia: Disputas e retrocessos na América Latina, que investiga as relações entre entre gênero, religião, direitos e democracia na América Latina.
O assassinato da vereadora carioca Marielle Franco, por exemplo, é um caso atualmente compreendido como fruto da violência política específica contra mulheres. Mas nem sempre as agressões e ameaças às mulheres na política são entendidas como violências sistemáticas, parte de uma estrutura. As ameaças à vida da deputada federal Talíria Petrone (RJ) também são violências políticas, assim como a agressão de Jair Bolsonaro, em 2014, a Maria do Rosário (ex-deputada e ex-ministra), quando disse que ela não merecia ser estuprada porque ele a considerava “muito feia”.
A pesquisadora afirma de maneira objetiva que é preciso ter mecanismos para combater esse tipo de violência, inclusive jurídicos, com a criminalização dessas práticas.
O conceito precisa dialogar com a realidade das mulheres brasileiras e pode ser um importante ferramenta de denúncia, mas isso não é simples. Nas eleições municipais deste ano, mesmo que candidatas identifiquem agressões e intimidações como parte de violência política, a experiência mostra que é difícil conseguir justiça. Ainda assim, elas não recuam.
A pesquisadora concedeu entrevista à Marco Zero por e-mail, em que reflete sobre o conceito, os desafios para as mulheres nas as eleições 2020 e ações possíveis para combater a violência política de gênero.

Em 2018, houve recorde na eleição de mulheres no Congresso Nacional, mesmo ano em que Marielle Franco foi assasinada. Na foto, as deputadas federais Sâmia Bonfim (PSOL/SP), Talíria Petrone (PSOL/RJ) seguram placas em homanagem à Marielle.Foto: Mídia Ninja
Qual a importância de ter um conceito como o da violência política de gênero discutido no contexto das eleições de 2020? Esse debate, na sua opinião, está acontecendo de maneira ampla e satisfatória neste ano?
Quando damos nomes às coisas, fica mais fácil reconhecer fenômenos que existem, mas que nem sempre são percebidos como um problema coletivo. As mulheres que atuam na política, como candidatas ou eleitas, as mulheres defensoras e ativistas de direitos humanos, contam inúmeras histórias sobre assédio, ameaças, ataques. Quando reconhecemos que este é um problema coletivo que atinge as mulheres justamente porque avançam em espaços historicamente masculinos e colocam em xeque hierarquias, passa a ser evidente que é preciso encontrar alternativas para além de casos individuais.
Na literatura internacional e nos documentos que vêm sendo publicados pelas Nações Unidas, considera-se que essa violência se apresenta de diferentes maneiras – física, sexual, psicológica, simbólica e econômica – e atinge as mulheres de modo variado, dependendo das clivagens e conflitos em contextos específicos – no nosso caso, raça, sexualidade e também o perfil de ativistas em áreas e temas de maior conflito tornam as mulheres alvos dessa violência com maior frequência, o que não significa que outras mulheres não a sofram.
Nas eleições de 2020 o debate se ampliou. Hoje dizemos claramente que Marielle Franco foi assassinada por ser uma política mulher, negra, periférica, bissexual, que lutava por agendas que confrontavam interesses. E que o que uma política como Manuela D’Ávila sofreu em 2018 e sofre agora em 2020, quando está à frente das disputas para a prefeitura de Porto Alegre, é violência de gênero. Mas precisamos de medidas claras para combater essa violência e punir quem as realiza. Os partidos precisam, também, assumir sua responsabilidade, garantindo condições adequadas de disputa e punindo aqueles que, no próprio partido, violam os direitos das mulheres.
Uma das coisas que esse conceito nos ajuda a entender é que essa violência se dá, sobretudo, na dimensão das práticas informais. As mulheres têm direitos, mas eles não se efetivam. Elas são quase 50% das pessoas filiadas a partidos políticos no Brasil, mas têm dificuldades para conseguir firmar uma candidatura em condições de igualdade, sofrem assédio, não recebem recursos. Elas precisam estar visíveis para concorrer, mas a internet é um espaço em que a violência misógina e racista é expressiva. Para dar conta – analítica e legalmente – dessas violências, precisamos olhar para essas práticas, encontrar maneiras de debatê-las mais amplamente e de regular e criminalizar abusos e violências.
Entendo que o conceito vem dar nome a práticas que, na verdade, são bastante antigas e que afastam as mulheres dos cargos políticos. Como a amplitude desse conceito ajuda a jogar luz sobre violências que são sutis, em geral, com mulheres na política?
A violência política é histórica. Pense, por exemplo, na violência ligada às práticas coronelistas no caso brasileiro. A violência contra as mulheres na política também é histórica, mas assume seus padrões atuais mais recentemente porque é uma reação à ampliação da participação das mulheres na política – e, também, à sua demanda maior e mais fortemente vocalizada por participação. Veja, no caso da América Latina, desde a adoção da primeira legislação de cotas eleitorais na região, pela Argentina, em 1991, o percentual de mulheres eleitas quase triplicou. E os movimentos feministas também se tornaram mais capilares, com a agenda do “empoderamento” e/ou a agenda da igualdade de gênero e racial mais presentes no debate público. O que vemos hoje é, assim, um pouco distinto do que “sempre existiu” justamente porque se trata de uma reação à maior participação das mulheres, e ela tem um contexto histórico específico.
Alguns candidatas que sofreram agressões relataram que, muitas vezes, preferiram não expor ou falar abertamente. Há o medo de reação ou que possa atrapalhar a campanha. Você acredita que falar sobre violências políticas de gênero sofridas pode ser entendido como um fator negativo durante a disputa eleitoral?
Não. Acredito que falar abertamente das violências sofridas é sempre o melhor caminho. Mas compreendo que, sobretudo para as mulheres, essa escolha não seja fácil. Muitas vezes, ao denunciar a violência sofrida, elas se expõem e expõem seus familiares – que, no caso, das mulheres, são frequentemente alvo de violência. Por isso tem que ser claro que o problema é coletivo e nós temos um dever, como sociedade, como analistas, como justiça eleitoral, de garantir que o custo da participação não seja a violência.
Há também algo que diz respeito ao caso brasileiro e a outros em que a extrema-direita se fortaleceu nos últimos anos: não podemos permitir que a violência e, em particular, o discurso de ódio sejam normalizados. Esta tem sido uma tática dessa direita, a violência como espetáculo, a violência normalizada. Os homens que quebraram a placa de Marielle foram eleitos, em um exemplo da espetacularização da violência com fins políticos. Mas a reação a eles também é uma parte importante da política naquele momento, e aprendemos muito com ela. A mensagem, nessa reação coletiva, é “somos uma sociedade que não aceita a violência como parte da política, a violência contra as mulheres, as mulheres negras”. É uma disputa também sobre quem somos, coletivamente.

Mulheres na manifestação #EleNão, em 2018, contra Bolsonaro. Foto: Débora Britto
Concorda que isso seria um modo da estrutura patriarcal (nos partidos e sociedade) que mais uma vez silencia candidatas? Se não, a que pode ser atribuída essa leitura?
Um risco que temos é justamente o de atribuir às mulheres a responsabilidade de lidar individualmente com o que já é uma desvantagem, isto é, o fato de serem alvo de uma violência que pretende justamente dificultar sua participação, excluí-las das disputas. Por isso insisto na importância de que essa responsabilidade, por garantir condições igualitárias e não violentas de participação, seja coletiva. Os partidos e a justiça eleitoral têm responsabilidades, precisam assumi-la apoiando as mulheres, abrindo esses debate e criminalizando a violência.
Na sua opinião, a mídia também promove ou pode promover violências políticas de gênero contra mulheres candidatas? Como isso acontece e como poderia ser enfrentado?
Sem dúvida. A violência simbólica, que vem pela manifestação de estereótipos e, também, na medida em que se trate as mulheres na política de maneira distinta dos homens, por exemplo, dando maior expressão a seu corpo, sua vida sexual, suas relações afetivas. Isso tem mudado, tem melhorado, na minha opinião. Há, hoje, um debate mais qualificado sobre a participação – e a exclusão – das mulheres negras. Os movimentos feministas e antirracistas conseguiram pressionar por avanços, conseguiram reenquadrar essas discussões.
No caso da mídia, queria chamar a atenção para o fato de que a violência política também atinge mulheres jornalistas, sobretudo em contextos de fortalecimento da extrema-direita. Temos vários casos no Brasil. São mulheres que exerceram sua profissão investigando ilegalidades. A reação foi claramente misógina, a violência foi dirigida a elas e a suas famílias com o objetivo de prejudicá-las, desacreditá-las. Mulheres jornalistas que noticiam e analisam a política e mulheres políticas têm, em muitos casos, sofrido violências semelhantes no Brasil.
Como este conceito pode ser utilizado para evidenciar os problemas do sistema eleitoral e partidário, pensando aqui a violência econômica como algo que acontece na esquerda, centro e direita?
O conceito de violência política contra as mulheres joga luz sobre práticas formais e informais. No caso da violência econômica, as práticas informais históricas de desequilíbrio no financiamento das campanhas de homens e mulheres ganham novos padrões uma vez que a legislação passou a exigir, no Brasil, a partir de 2018, que no mínimo 30% dos recursos do Fundo Eleitoral Partidário sejam dirigidos às mulheres. Agora, o que era apenas prática informal, é também ilegal e pode – e deve – ser punido.
Mas é importante observar que algumas práticas informais, como a concentração de recursos em algumas campanhas ou o direcionamento, nas eleições municipais, dos recursos para as candidatas a vice-prefeita (porque assim se reforça a campanha dos candidatos homens e prefeito) expõem as brechas na legislação. É a dimensão informal nos mostrando que precisamos qualificar as leis, isto é, melhorar os aspectos institucionais formais para que o equilíbrio entre as candidaturas seja garantido. É muito importante que seja claro que quando os partidos não cumprem a lei ou encontram subterfúgios para não apoiar as candidaturas femininas, eles estão praticando uma violência e atuam em desacordo com as democracias. No meu entendimento, os partidos são instituições fundamentais em um regime democrático. Mas eles não podem ter autonomia para atuar na direção contrária à dos preceitos democráticos.
Ao mesmo tempo que temos mais mulheres candidatas com pautas feministas, há também o aumento de candidatura de mulheres com pautas conservadoras. A violência política de gênero está associada à reação a presença de mulheres na política. Isso acontece tanto no campo progressista como conservador? Há diferenças para um campo um outro?
Como mencionei acima, essa violência é uma reação à maior presença de mulheres na política. As feministas são alvo na medida em que não apenas questionam hierarquias, mas também apontam para o fato de que há mecanismos estruturais que mantêm as mulheres à margem dos espaços de tomada de decisões. Ainda que a violência possa se manifestar a partir dos campos progressista e conservador, é no segundo que há mais resistência às transformações nas hierarquias de gênero. E, para além da oposição progressistas e conservadores, me parece importante neste momento jogar luz sobre a atuação da extrema-direita, que normaliza a violência contra as mulheres, contra feministas, contra defensoras de direitos humanos.
Na sua avaliação, como mulheres candidatas e movimentos de mulheres feministas podem fazer esse debate de modo a fortalecer candidatas e reduzir a sub-representação de mulheres na política?
Os movimentos têm sido fundamentais para nomear os problemas e colocá-los em debate como questões coletivas. A violência contra as mulheres na sociedade, a violência doméstica, não teriam sido politizadas – no sentido de assumirmos responsabilidade coletiva por elas e exigirmos leis e políticas públicas para preveni-las, penalizar agressores e garantir a vida das mulheres – sem a atuação dos movimentos feministas. São dois caminhos, e eles conversam entre si. Um é ampliar o debate na sociedade civil, inclusive nos meios de comunicação. Outro é levá-lo aos espaços institucionais. Nesse caso, o Judiciário é fundamental, mas também os espaços políticos do Legislativo e do Executivo.
Mulher negra e jornalista antirracista. Formada pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), também tem formação em Direitos Humanos pelo Instituto de Direitos Humanos da Catalunha. Trabalhou no Centro de Cultura Luiz Freire - ONG de defesa dos direitos humanos - e é integrante do Terral Coletivo de Comunicação Popular, grupo que atua na formação de comunicadoras/es populares e na defesa do Direito à Comunicação.